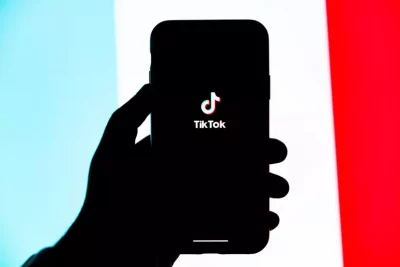Publicado originalmente no site Outras Palavras.
Regular as Big Techs, como propõe o projeto que tramita no Congresso, é essencial. Mas só resolve a parte menor do problema. É preciso voltar à luta por uma rede livre das corporações – que a esquerda abandonou, para alegria dos fascistas
No Brasil, o debate sobre como regular o funcionamento das redes sociais tem acontecido via PL 2630/2020, equivocadamente apelidado de “PL das Fake News”. Mas o tema cresce em todo o mundo. O escopo varia. Na lei européia, no Digital Services Act (DSA), foram listadas 19 plataformas, todas com grande número de usuários (“very large platforms”), de redes sociais a mecanismos de busca, passando por mercados digitais, como Amazon e Aliexpress. O projeto brasileiro deixa os mercados de fora, mas inclui serviços de mensagem, como WhatsApp e Telegram. O DSA europeu foi concebido tendo a seu lado um gêmeo, para dar conta do lado econômico. É o Digital Markets Act, ou DMA, onde se desenham políticas em favor da soberania digital europeia. Nesse aspecto, o projeto de regulamentação brasileiro é manco. Poderia ser descrito como um projeto de regulação de redes sociais mais mecanismos de busca, e não como uma lei abrangente para plataformas digitais.
Não é difícil descobrir o porquê da lacuna. A esquerda tem usado intensamente as grandes plataformas, a despeito de toda crítica que faz dos algoritmos e seus viéses racista, sexista e político. Aprisionou-se no jardim murado das Big Techs, demandando que o Estado mande o dono tirar as ervas daninhas, controlar as pragas e, se possível, aparar a grama.
A extrema-direita agiu de modo oposto. Percebeu que, para chegar às pessoas, precisava usar de instrumentos não tradicionais. Surgiram os grupos de WhatsApp – que não foi criado como rede social, mas virou. Como a rede é porosa, os conteúdos extravasam e inundam as redes tradicionais. Para fazer com que certos vídeos “bombem” no Youtube, os promotores defake news o promovem amplamente em sua vasta malha de grupos. A própria plataforma terminará recomendando a peça, por identificar nela algo que atrai interesse, audiência e dinheiro.
Quando as redes sociais de maior peso começaram minimamente a apertar o cerco contra a desinformação, pressionadas pela opinião pública, a extrema-direita foi constituindo outros espaços. Plataformas alternativas foram criadas ou ocupadas, e passaram a abrigar os discursos mais claramente fascistas, e a servir como espaços de formulação, além de zonas de interação internacional. Exemplos: Parler, Rumble, Gettr, nomes que a maioria de nós desconhece. Claro, eles têm a vantagem de contar com seus bilionários de plantão para eventualmente desperdiçar dinheiro com um projeto político – vide Elon Musk. Mas, ao mesmo tempo, incorporaram o discurso da marginalidade contra o sistema, do radical rebelde. Um discurso que sustenta também um pedido constante por recursos e contribuições voltados aos apoiadores. Nada enche mais um cofrinho do que um banimento do YouTube.
A esquerda tem sido muito mais conservadora. Claro, para nos defender do nazi-fascismo, é natural nos unirmos na defesa da democracia liberal. E as plataformas mais populares das Big Tech tornaram-se quase sinônimos dessa mesma democracia liberal (umas mais, outras menos). Além disso, não são mais os jornais e TVs que monopolizam os meios de contato com o público final. O próprio conteúdo é majoritariamente acessado, hoje, via plataformas. São elas que detém não só a agenda de contatos dos indivíduos, seus amigos, parentes e rede de relacionamento, mas os meios para que a mídia atinja seu público. Por isso, quando confrontadas com a possibilidade de uma regulação incômoda, rapidamente as Big Techs ameaçam retirar os grandes jornais de suas plataformas, por exemplo. Elas detêm hoje os meios de distribuição de conteúdo.
Quando começaram a ganhar relevância, ao oferecer “gratuitamente” serviços aos seus usuários, as plataformas foram vistas como meios eficazes para atingir a democratização das comunicações. Pareciam muito mais eficazes do que a própria Internet ou a web de até então. Hospedar o site em um servidor próprio, ainda que não fosse caro, facilmente era classificado como desperdício de recursos pelas organizações sociais. Hospedar e transmitir vídeos era mais difícil e custoso ainda – além de ineficiente, pois o YouTube entrega audiência, além de facilitar o trabalho. Havia exceções: pressionadas por militantes mais ligados à área de tecnologia, muitos deles vindos do movimento software livre, muitos movimentos ainda procuravam manter suas estruturas próprias, embora sem abrir mão dos espaços que surgiam.
Isso praticamente acabou. As organizações encontram-se completamente plataformizadas. Escrevem seus documentos coletivos no Google Docs. Relegam sua produção audiovisual a alguma esquina do YouTube, ou ao palanque performático do Instagram. Conversam entre si no WhatsApp/Telegram (algumas usam o Signal). Debatem furiosamente na “esfera pública” do Twitter. Hospedam seus sites no AWS, o serviço da Amazon. Pior, muitas repetem os cacoetes dos influencers para tentar aumentar seu público.
Não é o caso de se apontar dedos aqui, mas de refletir sobre nossas contradições. Há pressões e contextos totalmente compreensíveis para chegar onde chegamos. Porém, não podemos reduzir nosso horizonte. É preciso lembrar que a web não se reduz às grandes plataformas e que é preciso retomar a autonomia tecnológica (e estética) das organizações. A desplataformização é urgente. A web oferece um conjunto excelente de protocolos abertos que permitem construir ambientes e contatos para além das plataformas. Isso não significa abrir mão dos espaços das Big Techs, que hoje monopolizam o contato com o público, mas ter consciência que é prudente ter estratégias variadas para objetivos variados (recrutamento, formulação, espalhamento). E que é preciso ter noção de que parte da força social de um indivíduo ou organização passa por combater a alienação que os espaços oligopolísticos produzem.